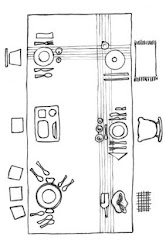Sucessivos governos têm agendado a questão da reforma do Estado e procurado - com elevado insucesso, diga-se - transformar aquele gigante em algo de sensato e funcional. Sendo uma batalha ciclópica, nunca vencida, a renovação da missão do Estado deve ocupar lugar cimeiro em qualquer proposta política. Mas que princípios devem orientar essa missão?
Desde logo, é fundamental ter claro que a reforma do Estado não tem a ver com a simples reorganização dos seus serviços. Essa é a primeira tentação. Mas não leva longe. Na sua essência, esta reforma é, acima de tudo, cultural e de mentalidades. Sem começar por aí, toda a energia se dissipa sem resultado. Há que investir numa nova atitude de um Estado que só existe para servir o cidadão e a comunidade. A sua legitimidade decorre directamente dessa natureza. É fundamental recuperar a centralidade do conceito de “serviço” na acção do Estado.
A verdadeira reforma passa pois, por transformar cada agente do Estado num verdadeiro servidor da causa pública e dos seus concidadãos. Por isso, na sua interface com o cidadão, o Estado e os seus agentes devem organizar-se em função das necessidades da comunidade e das pessoas. De uma forma clara, há que assumir, por exemplo, que o Sistema Nacional de Saúde só existe para servir doentes, ou as Escolas para formarem estudantes, ou as repartições públicas para resolverem problemas de todos nós. Esta cultura de centragem do Estado no cidadão é um enorme desafio.
Um dos mecanismos mais úteis para esse desígnio passa pela permanente avaliação da qualidade dos serviços públicos, na óptica do cidadão-cliente. Para a concretização desse objectivo, deveria ser obrigatório após cada atendimento, o cidadão deixar a sua avaliação e esta ter consequências. Uma utilização muito mais regular dos Livros Amarelos, das caixas de sugestões e dos estudos qualitativos sobre a opinião dos utentes poderiam ser instrumentos que corporizassem esse objectivo.
Também seria um grande avanço, cada serviço público ter um Provedor do utente, permanentemente disponível para ouvir as críticas e agir em conformidade, na transformação dos procedimentos desse serviço em função de um melhor atendimento e de uma mais eficaz resolução de problemas. Esse investimento, já realizado em algumas instituições, representaria um ganho significativo não só na qualidade do serviço, mas também no combate ao desperdício de recursos – como a perda de tempo – tornando mais eficiente todo o sistema.
Uma outra medida convergente passaria pela inclusão obrigatória, no plano de actividades e no orçamento de cada serviço público, de uma linha de acção e respectivos meios financeiros, para melhoria da qualidade dos serviços prestados. A medida da relevância de uma prioridade vê-se, normalmente, nos meios que lhe são atribuídos. E é para este objectivo que devem, em primeiro lugar, ser direccionados os recursos existentes.
06 maio 2008
Melhor Democracia
No final desta semana teremos, uma vez mais, a comemoração do Dia da Liberdade, trinta e quatro anos depois da instauração de um regime democrático em Portugal. A efeméride deve constituir uma oportunidade para reflectirmos sobre a qualidade da nossa democracia.
Independentemente dos avanços obtidos ao longo destes trinta anos, a democracia portuguesa vive hoje um tempo de crise que deve ser visto, sobretudo, como um desafio ao seu aperfeiçoamento e fortalecimento. De entre as suas várias dimensões poderemos identificar dois eixos prioritários: a recuperação do interesse dos cidadãos pela política e a dignificação da actividade política.
Precisamos, primeiro que tudo, de inverter o desinteresse e a desconfiança evidenciados pelos cidadãos face à política, com o consequente afastamento da vida democrática. Desde logo, necessitamos de uma democracia mais participativa, onde os cidadãos se sintam com espaço, poder e voz activa, para além do voto de quatro em quatro anos. Isso pode começar, por exemplo, pelo maior poder na decisão do destino dos impostos, aumentando a parcela decidida por cada contribuinte. Outra aposta pode passar pela abertura à iniciativa legislativa de cidadãos, em condições mais acessíveis que as actuais. Por outro lado ainda, é necessário afirmar que mais do que um direito, há um dever de participação política, que deve começar pela redução da abstenção, devendo mesmo ser ponderado o voto obrigatório. Poderíamos ainda acrescentar a importância de um modelo de educação para a cidadania, que no sistema educativo pudesse contribuir para uma consciencialização da relevância da cidadania política.
Mas, não podemos ignorar que o fortalecimento da democracia passa também por algumas alterações na actividade política. Em Portugal, foram apenas 7% os inquiridos que afirmaram ter confiança nos políticos, contra 10% na Europa. É a actividade mais desconsiderada entre todas as estudadas.
Que poderia ser feito para alterar este cenário? Para começar, um passo essencial passa por abandonarmos o preconceito e os estereótipos face aos políticos. Se é verdade que existem maus exemplos – como em todos os sectores – muitos são um bom exemplo no serviço à causa pública. Há que ser justo e não se deixar conduzir por um populismo bacoco. Mas só esse gesto de boa vontade não chega. Os políticos devem mostrar inequivocamente a sua vocação de serviço ao bem comum, independentemente dos jogos de poder. Para isso ajuda a recusa do modelo de “políticos profissionais”, em benefício do exercício de cargos políticos em regime de “comissão de serviço”, por um tempo limitado. Por outro lado, as remunerações dos políticos deveriam ser exactamente iguais às que tinham antes do exercício de funções políticas, tornando o factor salário irrelevante para a decisão de serviço á comunidade.
A democracia pode ser melhor. Se quer ter futuro, precisa mesmo de ser melhor.
Independentemente dos avanços obtidos ao longo destes trinta anos, a democracia portuguesa vive hoje um tempo de crise que deve ser visto, sobretudo, como um desafio ao seu aperfeiçoamento e fortalecimento. De entre as suas várias dimensões poderemos identificar dois eixos prioritários: a recuperação do interesse dos cidadãos pela política e a dignificação da actividade política.
Precisamos, primeiro que tudo, de inverter o desinteresse e a desconfiança evidenciados pelos cidadãos face à política, com o consequente afastamento da vida democrática. Desde logo, necessitamos de uma democracia mais participativa, onde os cidadãos se sintam com espaço, poder e voz activa, para além do voto de quatro em quatro anos. Isso pode começar, por exemplo, pelo maior poder na decisão do destino dos impostos, aumentando a parcela decidida por cada contribuinte. Outra aposta pode passar pela abertura à iniciativa legislativa de cidadãos, em condições mais acessíveis que as actuais. Por outro lado ainda, é necessário afirmar que mais do que um direito, há um dever de participação política, que deve começar pela redução da abstenção, devendo mesmo ser ponderado o voto obrigatório. Poderíamos ainda acrescentar a importância de um modelo de educação para a cidadania, que no sistema educativo pudesse contribuir para uma consciencialização da relevância da cidadania política.
Mas, não podemos ignorar que o fortalecimento da democracia passa também por algumas alterações na actividade política. Em Portugal, foram apenas 7% os inquiridos que afirmaram ter confiança nos políticos, contra 10% na Europa. É a actividade mais desconsiderada entre todas as estudadas.
Que poderia ser feito para alterar este cenário? Para começar, um passo essencial passa por abandonarmos o preconceito e os estereótipos face aos políticos. Se é verdade que existem maus exemplos – como em todos os sectores – muitos são um bom exemplo no serviço à causa pública. Há que ser justo e não se deixar conduzir por um populismo bacoco. Mas só esse gesto de boa vontade não chega. Os políticos devem mostrar inequivocamente a sua vocação de serviço ao bem comum, independentemente dos jogos de poder. Para isso ajuda a recusa do modelo de “políticos profissionais”, em benefício do exercício de cargos políticos em regime de “comissão de serviço”, por um tempo limitado. Por outro lado, as remunerações dos políticos deveriam ser exactamente iguais às que tinham antes do exercício de funções políticas, tornando o factor salário irrelevante para a decisão de serviço á comunidade.
A democracia pode ser melhor. Se quer ter futuro, precisa mesmo de ser melhor.
Inevitável
Ao fim de meses e meses de conflito aberto e de hostilidade acesa, o Ministério da Educação e os sindicatos dos professores chegaram a acordo – pelo menos, aparente - quanto ao processo de avaliação. A arrogância e o radicalismo, de uma parte e de outra, tiveram que dar lugar à negociação e ao entendimento, pois este é sempre o único caminho que permite desbloquear estas situações. Era, pois, inevitável que assim acontecesse, sendo só uma questão de tempo e de protagonistas. Sobretudo depois da grande manifestação dos professores, tornou-se evidente que o Ministério da Educação tinha que rever a sua posição. Por outro lado, a sustentabilidade da luta dos professores exigia aos sindicatos que alguma vitória fosse alcançada. E se a demissão da equipa da Educação foi ficando fora de alcance, um acordo que desse vencimento a algumas das teses dos sindicatos poderia ser a saída airosa. E assim parece ter sido.
Pena é que se tivesse demorado uma eternidade e que, pelo meio, se tenham deixado um conjunto de feridas que demorarão muito a ser esquecidas e que podem mesmo vir a pôr em causa este acordo alcançado. Não teria sido possível – e desejável – ter chegado a acordo há alguns meses atrás, sem danos colaterais e com tempo poupado? Não podia o Ministério ter começado por aqui? Não era preferível ter chegado a este momento de consenso pelo seu próprio pé, em vez de ser arrastado pelos acontecimentos? A resposta parece óbvia.
Este episódio revela, de uma forma clara, como nos nossos dias só é possível avançar através da construção de pontes e da geração de consensos. Apesar de muitos criticarem esta via do diálogo, associando-lhe um estigma de fraqueza, de indefinição e de falta de convicções, é a única opção que permite, numa sociedade democrática, consolidar reformas. Dito de outra forma, não chega ter o poder de uma maioria absoluta. Aquele pode ser necessário mas não é suficiente. A legitimidade democrática que o voto popular concede não resolve tudo. A ela deve somar-se uma capacidade de gerar consensos, de mobilizar os protagonistas relevantes e de chegar a soluções sustentáveis que se enraízam profundamente na sociedade e não são levadas pela primeira ventania.
Num mundo plural e fragmentado, que não obedece por decreto, nem funciona por automatismo, é necessário ter a lucidez de procurar construir pontes. De a todos fazer participar na construção das soluções para os problemas que enfrentamos. Ainda que demore mais e que se avance por pequenos passos, só assim se darão passos seguros. Só com o cimento das vitórias comuns, as soluções ganharão a consistência de betão. E só adquiriremos um nível elevado de co-responsabilidade, quando todos nos sentirmos parte da solução e responsáveis pelos resultados. E isso só se alcança dialogando. É inevitável.
Pena é que se tivesse demorado uma eternidade e que, pelo meio, se tenham deixado um conjunto de feridas que demorarão muito a ser esquecidas e que podem mesmo vir a pôr em causa este acordo alcançado. Não teria sido possível – e desejável – ter chegado a acordo há alguns meses atrás, sem danos colaterais e com tempo poupado? Não podia o Ministério ter começado por aqui? Não era preferível ter chegado a este momento de consenso pelo seu próprio pé, em vez de ser arrastado pelos acontecimentos? A resposta parece óbvia.
Este episódio revela, de uma forma clara, como nos nossos dias só é possível avançar através da construção de pontes e da geração de consensos. Apesar de muitos criticarem esta via do diálogo, associando-lhe um estigma de fraqueza, de indefinição e de falta de convicções, é a única opção que permite, numa sociedade democrática, consolidar reformas. Dito de outra forma, não chega ter o poder de uma maioria absoluta. Aquele pode ser necessário mas não é suficiente. A legitimidade democrática que o voto popular concede não resolve tudo. A ela deve somar-se uma capacidade de gerar consensos, de mobilizar os protagonistas relevantes e de chegar a soluções sustentáveis que se enraízam profundamente na sociedade e não são levadas pela primeira ventania.
Num mundo plural e fragmentado, que não obedece por decreto, nem funciona por automatismo, é necessário ter a lucidez de procurar construir pontes. De a todos fazer participar na construção das soluções para os problemas que enfrentamos. Ainda que demore mais e que se avance por pequenos passos, só assim se darão passos seguros. Só com o cimento das vitórias comuns, as soluções ganharão a consistência de betão. E só adquiriremos um nível elevado de co-responsabilidade, quando todos nos sentirmos parte da solução e responsáveis pelos resultados. E isso só se alcança dialogando. É inevitável.
Deixar para trás
Sou de uma geração que já não viveu a Guerra colonial. Não tenho, por um lado, experiências traumáticas de familiares que por terras de África tivessem perecido nem, por outro lado, à minha volta se viveram radicalismos ideológicos de qualquer cor, na discussão sobre as razões de ser desse tempo. Talvez por isso, benefício – creio - de alguma distância crítica em relação ao tema dos ex-combatentes e, porventura, um olhar desapaixonado que permite maior objectividade.
E que se vê, desse posto de observação? Acima de tudo, descobre-se esquecimento que é das formas mais duras da injustiça. Emerge, então, uma sensação de desconforto pela forma como, enquanto comunidade e País, nos portámos em relação a estes homens. Chega mesmo a tocar a vergonha.
Muitos dos ex-combatentes e suas famílias pagam ainda hoje uma factura muito elevada, no corpo e na mente, em consequência dessa experiência difícil. Os fantasmas da guerra não os deixam descansar. E enquanto sofrem o peso dessa herança, não sentem dos seus compatriotas e do Estado que serviram, um reconhecimento suficientemente condigno, sem aproveitamento ideológico, com o respeito que merecem.
E onde radica parte dessa falta de respeito? Em grande medida, na confusão lamentável entre o julgamento ideológico de um regime político e a condenação ao esquecimento dos que, sem dolo, serviram debaixo de uma bandeira. Não há erro maior.
Quem combateu nas ex-colónias portuguesas - na sua esmagadora maioria - não o fez de livre vontade. À alternativa da deserção, muitos entenderam dizer não, por considerarem ser uma traição aos seus. Outros, mais prosaicamente, não conseguiram partir para o exílio a tempo. Restou-lhes então receber a guia de marcha e partir para o mato, passando a experimentar “aquele inferno de matar ou morrer”.
Aqueles que combateram nas guerras coloniais, fizeram-no ao serviço do seu País, com maior ou menor convicção, executando uma política da qual não eram autores nem co-responsáveis. Não será necessário recordar que não vivíamos em democracia e a formulação da decisão política não resultava da voz do povo. Salvo eventuais autores de crimes de guerra, cometidos nesses anos, e que mereceriam o julgamento que a própria disciplina militar prevê, os ex-combatentes são, acima de tudo, cidadãos portugueses que obedeceram, com risco de vida, a um desígnio político do regime vigente. Foram servidores do País e assim devem ser tratados. Sem subterfúgios, nem equívocos.
O gesto de reconhecimento aos ex-combatentes, não equivale, como alguns gostariam, a branquear os erros do regime anterior, a apelar a um saudosismo bacoco ou a ir mais longe para territórios racistas e neo-colonialistas. Nada disso. Trata-se somente de não abandonar os nossos homens, sobretudo depois do combate. De não os deixar desaparecer na névoa do esquecimento. Um povo digno não os deixaria para trás.
E que se vê, desse posto de observação? Acima de tudo, descobre-se esquecimento que é das formas mais duras da injustiça. Emerge, então, uma sensação de desconforto pela forma como, enquanto comunidade e País, nos portámos em relação a estes homens. Chega mesmo a tocar a vergonha.
Muitos dos ex-combatentes e suas famílias pagam ainda hoje uma factura muito elevada, no corpo e na mente, em consequência dessa experiência difícil. Os fantasmas da guerra não os deixam descansar. E enquanto sofrem o peso dessa herança, não sentem dos seus compatriotas e do Estado que serviram, um reconhecimento suficientemente condigno, sem aproveitamento ideológico, com o respeito que merecem.
E onde radica parte dessa falta de respeito? Em grande medida, na confusão lamentável entre o julgamento ideológico de um regime político e a condenação ao esquecimento dos que, sem dolo, serviram debaixo de uma bandeira. Não há erro maior.
Quem combateu nas ex-colónias portuguesas - na sua esmagadora maioria - não o fez de livre vontade. À alternativa da deserção, muitos entenderam dizer não, por considerarem ser uma traição aos seus. Outros, mais prosaicamente, não conseguiram partir para o exílio a tempo. Restou-lhes então receber a guia de marcha e partir para o mato, passando a experimentar “aquele inferno de matar ou morrer”.
Aqueles que combateram nas guerras coloniais, fizeram-no ao serviço do seu País, com maior ou menor convicção, executando uma política da qual não eram autores nem co-responsáveis. Não será necessário recordar que não vivíamos em democracia e a formulação da decisão política não resultava da voz do povo. Salvo eventuais autores de crimes de guerra, cometidos nesses anos, e que mereceriam o julgamento que a própria disciplina militar prevê, os ex-combatentes são, acima de tudo, cidadãos portugueses que obedeceram, com risco de vida, a um desígnio político do regime vigente. Foram servidores do País e assim devem ser tratados. Sem subterfúgios, nem equívocos.
O gesto de reconhecimento aos ex-combatentes, não equivale, como alguns gostariam, a branquear os erros do regime anterior, a apelar a um saudosismo bacoco ou a ir mais longe para territórios racistas e neo-colonialistas. Nada disso. Trata-se somente de não abandonar os nossos homens, sobretudo depois do combate. De não os deixar desaparecer na névoa do esquecimento. Um povo digno não os deixaria para trás.
Subscrever:
Mensagens (Atom)